Paul pode
Foi o vigésimo segundo show de Paul McCartney no Brasil, o vigésimo apenas neste século, o sétimo que assisto desde o primeiro, no começo dos anos 90, há quase vinte e cinco anos. E ele segue irretocável: setlist repleto de hits, banda mínima e precisa, quase três horas de show carregando dezenas de milhares de pessoas na mão como se elas fossem um pequeno filhote. A maior diferença, claro, são os pares de anos que nos separam dele a cada nova visita, mas desde que engatou uma sequência de turnês por diferentes cidades do Brasil em 2010 (esta é sua quarta vinda desde então) parece que nem a idade lhe aflige. Nessa série de excursões, vimos Paul McCartney ainda sexagenário, pouco depois de fazer setenta anos e agora, no show que fez este domingo no Estádio do Palmeiras, em São Paulo, ele desfila intacto com três quartos de século nas costas. Não é só que não é pouco: é único.
Paul pode. Ele está muito além de todos seus contemporâneos e das grandes celebridades musicais deste século. Poucos artistas conhecidos em todo o mundo conseguem segurar três horas de show sem parecer encher linguiça ou forçar a barra em qualquer cidade do planeta – os Stones, Dylan, Neil Young, Stevie Wonder e o Cure são os poucos que me vêm à memória. O rosário de sucessos ultrapassa sua década beatle e atravessa pelo menos outros vinte anos com hits solo que a maioria das pessoas sabe pelo menos entoar a melodia, sem contar as faixas do disco mais recente ("mais recente", repetiu, algumas vezes em português, maravilhado pela sonoridade da palavra recém-descoberta). Os telões servem para facilitar a vida do público que só pode se contentar a ver o ídolo como um pontinho do outro lado do estádio e em algumas canções funcionam como contraponto cênico, seja exibindo imagens contemplativas (por exemplo, quando as fotos de um jovem George Harrison invadem o estádio em sua versão de "Something") ou completando a intensidade da iluminação (como em "Being for the Benefit of Mr. Kite!", "Back in the USSR" ou "Helter Skelter"). Além disso, os únicos efeitos especiais foram a já tradicional explosão e fogos em "Live and Let Die" e a plataforma que o ergueu para cantar duas músicas apenas ao violão.
E daí que o repertório é quase idêntico todas as vezes? Ele poderia se dar ao luxo de tirar seus grandes clássicos – como "Hey Jude", "Eleanor Rigby", "Let it Be" ou "Yesterday" -, mas sabe que há muitos na multidão que nunca ouviram estas músicas ao vivo e tantos outros que esperam exatamente por aquele momento de catarse coletiva. Pelo estádio era possível ver olhos brilhando, sorrisos largos, lágrimas, beijos, abraços e refrões cantados a plenos pulmões, mesmo quando a maioria das pessoas era apenas um pontinho na multidão. Todos entregues ao evangelho do cancioneiro popular moderno, uma instituição forjada pelo próprio Paul McCartney.
E ele não está ali apenas em mais um dia de trabalho, ganhando dinheiro para fazer shows lotados em todo o mundo. Paul contempla o seu próprio legado, vendo safras e mais safras de fãs virem assistir este ourives musical que, com mais alguns poucos pioneiros, transformou a canção popular em um dos principais formatos narrativos de nosso tempo. Como os primeiros suportes de gravação de som só permitiam o registro de quase três minutos de áudio, essa restrição tecnológica forçou novos empreendedores a abandonar sinfonias, concertos e óperas rumo a uma unidade estética inédita até o começo do século passado: a canção. Paul McCartney é um dos últimos a lapidar este item da forma como o conhecemos hoje, definindo fronteiras, parâmetros e transgressões que formam uma verdadeira Bíblia de possibilidades musicais.
Só a oportunidade de estar no mesmo recinto que um autor deste porte já é um momento precioso. E quando o assistimos imprescindível no palco, esse momento é mágico – mesmo porque Paul não é um dos maiores cruzados da canção pop no mundo hoje (ao lado de outro gênio, o difícil e complexo Bob Dylan), mas também um dos nomes a transformar melodia, ritmo, harmonia e letra em um espetáculo vivo, para ser usufruído ao mesmo tempo em que a música ganha vida. Se Paul já usa poucos efeitos cênicos, musicalmente ele prescinde de quase tudo, mesmo que isso queira dizer que tenha que usar instrumentos sintetizados (como as cordas de "Eleanor Rigby" ou o sax de "Lady Madonna") para não trazer mais músicos para o palco. Fora estes raros truques, o resto está tudo sendo tocado em nossa frente.
E Paul vai trocando de instrumentos como a maioria dos astros pop troca de figurino: vai do baixo (o clássico Hoffner) para a guitarra, da guitarra para o violão, do violão para o piano de cauda, sem nenhuma dificuldade. Seja nas complexas linhas de baixo, esmerilhando na guitarra, segurando o público todo só com o violão em "Blackbird" e "Here Today" ou se acabando no piano, Paul sempre se entrega por completo à celebração ao vivo, fazendo questão de mostrar para o público que é ele mesmo que toca tudo, que a velhice pode não ser um problema, que parar de comer carne compensa e que ele só depende, no fim das contas, de si mesmo. Até a voz, que na maioria dos artistas passa a ser um problema com o passar dos anos, está quase inteira. Fora alguns agudos que ele já não alcança – e, como sabe disso, nem tenta chegar ali -, o falsete é idêntico aos dos discos dos Beatles, o timbre praticamente é o mesmo desde os anos 70, a textura rasgada em alguns momentos vem como uma espécie de encanto mágico. Paul é um alquimista musical e há muito tempo descobriu que a pedra filosofal não cria ouro literal: seu ouro transcende a materialidade e espalha-se pelo público como uma dádiva cósmica invocada por um mago gente boa.
Porque ele faz questão de ser legal. Não bastasse toda sua importância, Paul segue insistindo em falar português (cada vez melhor), em fazer gracinhas, em piadas infames. "Que balada hein!", comemorou em nosso idioma, logo depois de ter pedido primeiro para "os manos" e depois "as minas" cantarem o coro indefectível de "Hey Jude". Se deu a graça até de rebolar de costas para o público em "And I Love Her" e a tentar agradar o público com outras brincadeiras. Mas, por mais que parecesse epitomizar o tal "rock de tiozão", Paul McCartney é muito mais do que isso. Porque ele não é um tiozão, aquele parente distante que vemos apenas em festas familiares e tenta forçar intimidade com a piada do pavê ou perguntando sobre como vão "os namorados" ou "as namoradas". Paul pariu tudo isso, esteve sempre ali e sempre vai estar. É o verdadeiro pai nosso.





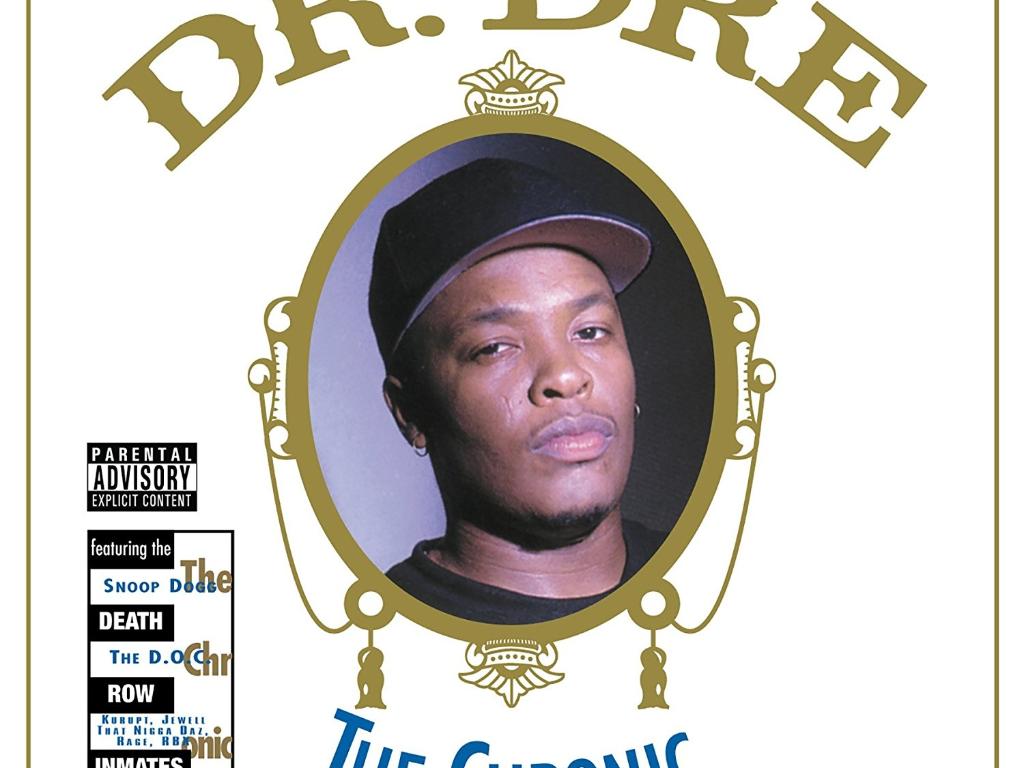





ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.